Quando o julgamento é da consciência - crítica do espetáculo Auto de João da Cruz
- Pedro Alonso
- 12 de fev. de 2020
- 4 min de leitura
Atualizado: 13 de fev. de 2020
Está em cartaz, no teatro SESI Firjan, a montagem inédita de Auto de João da Cruz, de Ariano Suassuna, escrita pelo autor paraibano quando ele tinha 23 anos de idade, antes de conceber o que se tornaria um dos clássicos do teatro brasileiro moderno: o irretocável Auto da Compadecida. A encenação comemora os dez anos de estrada da Cia OmondÉ.
A situação inicial do texto gira em torno de uma insatisfação do protagonista (Zé Wendel), que tem a ver com a falta de perspectiva de uma vida melhor, na cidade em que mora com sua mãe (Tati Lima) e com Regina (Elisa Barbosa), jovem de sólida formação moral e que nutre um amor calado por João. Sem dinheiro, e fadado a permanecer, “para sempre”, trabalhando embaixo de um sol que não perdoa, ele manifesta desejos que o tornam vulneráveis dos ardis de uma dupla de “infernais”: o Cego (André Senna) e seu Guia (Leonardo Brício), que se colocam em seu caminho, e oferecem, no dia do seu aniversário, dia de Natal, aquilo que João sempre sonhou ser e ter. Ao mesmo tempo, João tem um duplo amparo, que seguirá, junto com ele, na direção que a bússola do seu livre arbítrio determinar: um anjo da guarda (Junior Dantas), meio mambembe, que precisa finalizar a costura de uma de suas asas, e o pai, o peregrino (Iano Salomão), que contribui com uma quantia em dinheiro para que João também possa encarar a estrada e acompanhá-lo de longe.
Suassuna é um autor que nunca negou as influências que adquiriu, da dramaturgia clássica ocidental, na composição de suas obras. Ele extraiu do Fausto, de Goethe, o dilema moral que um pacto, com a figura do diabo, pode acarretar de deleite e de sofrimento, e misturou à essência dos cordéis para criar um quadro cênico universal com a cara e o sotaque do Brasil.
Nesse caminho, a trilha seguida por João será marcada por incursões nos planos da realidade e do sonho: ao oficializar o acordo feito com os dois “Mefistófeles” da peça, João vai transitar pelas atmosferas do devaneio, do poético e do onírico. Seu caminho é pleno de ramificações e encruzilhadas. Ao agir, conforme os habitantes das hordas inferiores esperavam, João passa a usar a alcunha de “perigoso”, evidenciando uma postura mais austera e cruel com quem quer que seja, consolidando uma fama que se espalha por léguas de distância.

Como todo bom auto religioso, seus atos serão julgados por um tribunal superior, que não é o mesmo que o dos homens, mas da esfera divina. Quem se senta, no banco dos réus, é a consciência do protagonista. Após testemunharmos a via crucis desse Macário do Nordeste, a quarta parede da cena se rompe e os atores entregam sinos para o público, que serão utilizados para condenar ou absolver João da Cruz, conforme a intensidade dos badalos.
Apesar dos equívocos de suas escolhas, e dos desejos secretos, que foram detectados pelos habitantes da terra dos cegos, o texto questiona se nós, espectadores da vida alheia, temos moral ilibada para poder julgar alguém, como se nunca tivéssemos cometido nenhum pecado. Se, na estética da escola teatral do realismo, o personagem é o espelho do homem, então os tropeços, praticados por João, não são, também, os mesmos que o do espectador, cada vez mais cindido moral e ideologicamente? Qualquer semelhança com os destinos do país e as sentenças proferidas, pelos nossos sacrossantos juristas, cheios de boas intenções, servidores dos patrões ego, ganância e poder, não é mera coincidência.
A cenografia de Nello Marrese se destaca pelo minimalismo com que reproduz a ambientação visual, sugerida pelo texto de Suassuna: o espaço é composto de um emaranhado de galhos, indicando uma vegetação afetada pela seca, conferindo plasticidade e impregnando o palco de poesia rústica.

Varas de bambus são usados para, ora significar a madeira que João carrega, no seu campo de trabalho, ora demarcar, no palco, os limites da estrada, o local em que vai haver o encontro do protagonista com quem quer se servir de sua alma. A direção da peça resolve muito bem a questão da falta de recursos, quando reaproveita os chapéus que os anjos usam, por exemplo, escrevendo, no objeto, os nomes de seus disfarces, ao invés de, simplesmente, vesti-los adequadamente. A platéia, sempre muito atenta à sagacidade do jogo, responde à provocação com boas gargalhadas. O microfone que o Cego usa para diferenciar a voz, que transcende o meramente humano, é um recurso para lá de usual, mas que aqui, no conjunto das interações, causa um efeito de superioridade de um pelo outro, obtendo um rendimento cênico bem satisfatório.
A iluminação de Ana Luiza de Simoni evoca a fábula, principalmente, nos momentos de transitoriedade do presente da cena com outras dimensões metafísicas. Ela cumpre com aquilo que é alertado, no prólogo da peça, pelo autor, quando solicita um pouco mais do esforço imaginativo do público. Seguindo nessa seara, o modelo de figurino que Flávio Souza concebeu para o Cego nos faz pensar num inferno repleto de CEOs, estratégicos, talvez neoliberais, cuja gravata é simbólica nesse sentido: é com essa indumentária que o rei da Terra dos Cegos será puxado pelo Guia, que também tem um estilo de figurino que quebra com a ideia de todos se vestirem à maneira regionalista.
O elenco é composto por André Senna, Elisa Barbosa, Iano Salomão, Junior Dantas, Leonardo Brício, Luis Antônio Fortes, Tati Lima e Zé Wendel, um número considerável frente à enxurrada de solos que estão em cartaz nos teatros da cidade, porém algumas atuações me chamaram atenção: Zé Wendel dá vida a um João da Cruz, que vai do amargurado ao temido com boas transições e nuances bem exploradas. Junior Dantas é intérprete do Anjo da Guarda que possui uma comunicação muito forte com a plateia. A bolsa em que carrega os apetrechos torna o personagem muito simpático e com características marcadamente humanas. É dele que saem, também, os cacos que fazem menção a situação política do momento. Infelizmente, a exceção que destoa da regra é a atriz Elisa Barbosa, que precisa encontrar um meio de fazer com que acreditemos na verdade de sua personagem.
A direção de Inez Viana vai de encontro à essência do que o texto tem de crítico e simbólico, ao dar sopro cênico à personagens, cuja válvula de escape é rogar ao sagrado por uma dose de esperança e esquecer, por alguns instantes, a vida dura.
A Cia Omondé, ao trazer, para a cena teatral carioca, mais um inédito de Suassuna, ajuda a escrever uma página da história dos espetáculos populares no Brasil.



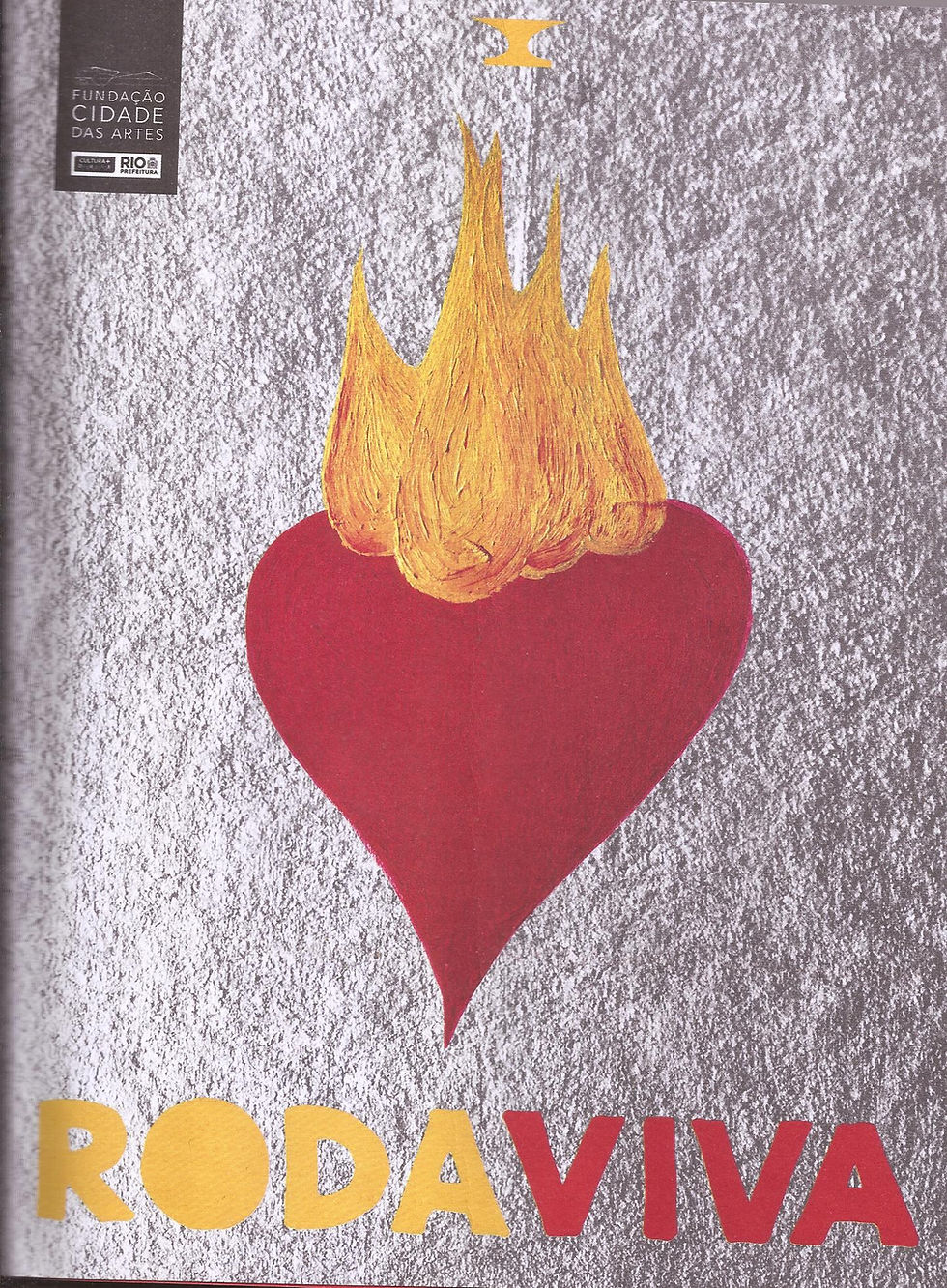
Comments